Verbete
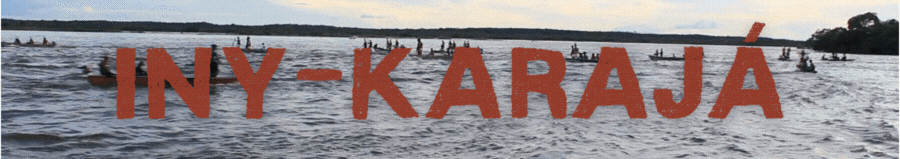
Autor do verbete: Manuel Ferreira Lima Filho
 Lídia Bikuria – artesã Iny Karajá e seu esposo Jacinto Mahuri cacique/hury da Aldeia Buridina, Aruanã (GO). Foto: Rosimar Santa Rosa, 1991. Acervo IGPA/PUC Goiás.
Lídia Bikuria – artesã Iny Karajá e seu esposo Jacinto Mahuri cacique/hury da Aldeia Buridina, Aruanã (GO). Foto: Rosimar Santa Rosa, 1991. Acervo IGPA/PUC Goiás.
Nome do Povo Indígena:
O nome Karajá foi, durante muitos anos, a designação herdada da prática colonial dos bandeirantes, que incorporavam nomes de origem tupi para nomear outros povos — notadamente inimigos ou grupos com os quais disputavam territórios. A literatura consolidou esse uso, inclusive em diversos estudos etnográficos. Com o avanço dos estudos linguísticos brasileiros e, sobretudo, com as pesquisas produzidas pelos próprios membros do grupo, passou-se a adotar o nome de autodesignação na língua nativa: Iny, que é como se referem a si mesmos. Como o nome Karajá se tornou amplamente conhecido na literatura antropológica e no imaginário nacional, a identificação do grupo encontra-se atualmente em uma fase de transição, sendo designado como Iny-Karajá — processo semelhante ao que ocorre com vários outros povos indígenas no Brasil que buscam afirmar suas autodenominações.
Língua:
De acordo com os estudos da Linguística Indígena Brasileira, a língua Iny-Karajá apresenta uma divisão interna em três variantes ou famílias dialetais: Iny-Karajá, Xambioá e Javaé. Essas expressões da língua possuem algumas diferenças fonéticas, lexicais e gramaticais, mas todos os falantes conseguem se comunicar mutuamente sem grandes dificuldades, preservando assim uma ampla intercompreensão interna. A língua Karajá está inserida no tronco linguístico Macro-Jê, que reúne diversas outras línguas indígenas brasileiras, como o Xavante, o Krahô e o Apinayé, entre outras.
Demografia:
A população Iny-Karajá tem demonstrado, ao longo do tempo, uma notável capacidade de resistência e adaptação, aspecto que também se reflete nos dados demográficos mais recentes. Segundo o Censo Demográfico de 2022 (IBGE), a população autodeclarada Karajá/Iny totaliza cerca de 3.200 pessoas, distribuídas principalmente ao longo do rio Araguaia, abrangendo territórios nos estados de Goiás, Tocantins, Pará e Mato Grosso. No estado de Goiás, o povo Iny-Karajá encontra-se representado principalmente nas aldeias Buridina e Bdè-Burè, ambas localizadas no município de Aruanã, às margens do rio Araguaia. No ano de 1991 eram 147 pessoas. Levantamentos realizados pelo Observatório dos Povos Indígenas de Goiás (OPIG) em 2024 registraram aproximadamente 320 pessoas nessas duas comunidades. Esse crescimento expressivo — de 147 para 320 pessoas em um período de 33 anos, correspondendo a uma taxa média anual de aproximadamente 6,3% — revela não apenas um aumento vegetativo consistente, mas também fatores associados ao fortalecimento identitário, à fixação territorial e à revalorização cultural das aldeias Iny-Karajá de Aruanã, impulsionados por políticas públicas e projetos colaborativos. Esses dados evidenciam a continuidade demográfica e sociocultural dos Iny-Karajá, cuja presença histórica na região do Médio Araguaia reafirma a vitalidade de suas redes familiares, cerimoniais e cosmológicas.
Aspectos Históricos:
Os Iny-Karajá são um dos povos mais antigos do Médio Araguaia, cuja presença contínua remonta a mais de seis séculos de ocupação, como comprovam as escavações e análises de paisagem realizadas por Mendes (2024) na Ilha do Bananal, revelando sítios cerâmicos e aldeias ancestrais de longa duração. Essa permanência reforça a visão Iny-Karajá de que o território é um corpo vivo, habitado por espíritos e por histórias transmitidas pela oralidade e pelos objetos.
Desde o século XVII, os Iny-Karajá entraram em contato com frentes missionárias, sertanistas e viajantes, como os registros de Luís Teixeira (1586) e os relatos de Paul Ehrenreich (1888) e Fritz Krause (1908), que coletaram centenas de artefatos hoje distribuídos em museus europeus. A análise das coleções de Ehrenreich, Krause e Lipkind (1938–1939), desenvolvida nos projetos Thesaurus Karajá e Kuaxiru, demonstra que esses objetos, antes testemunhos coloniais, se tornaram hoje plataformas de reapropriação identitária e cidadania patrimonial (Lima Filho, 2008).
Os séculos XIX e XX foram marcados por políticas de controle e deslocamento territorial. A criação do Serviço de Proteção aos Índios (SPI), as missões religiosas e as políticas de integração nacional transformaram o espaço Araguaia em uma zona de contato permanente. Contudo, os Iny-Karajá reorganizaram suas aldeias — especialmente Santa Isabel, Fontoura e Buridina —, mantendo as redes de parentesco e o calendário ritual como formas de resistência e continuidade.
Assim, a história Iny-Karajá não é uma narrativa linear de perda, mas uma trajetória de continuidade transformativa, na qual o ritual, a arte e o patrimônio funcionam como meios de recompor o mundo. Do ponto de vista dos próprios Iny-Karajá, o passado não está atrás, mas “ao lado” — habitando os artefatos, os rios, os pássaros e as palavras que ainda circulam entre aldeias e museus.
Situação da Terra Indígena:
O povo Iny-Karajá ocupa três Terras Indígenas, localizadas no município de Aruanã, estado de Goiás, às margens do Rio Araguaia, área tradicional de presença contínua desse povo. As terras estão sob jurisdição da Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai), vinculadas à Coordenação Regional Araguaia Tocantins e à Unidade Técnica Local de Goiânia, com acompanhamento do Ministério Público Federal (MPF).
a) Terra Indígena Karajá de Aruanã I — Homologada em 13 de setembro de 2000, conforme Decreto de 12/09/2000. Área de 14,2569 ha (142.569 m²); perímetro de 2.093,36 m. Situação jurídica: demarcação contestada judicialmente, com presença de posseiros e ocupações urbanas contíguas. Segundo a Funai (UTL-Goiânia), a área está em monitoramento territorial, e há análise antropológica complementar conduzida pelo MPF em cooperação com a Funai, com laudo previsto para dezembro de 2025, voltado a subsidiar eventuais revisões de limites e reintegrações de posse.
b) Terra Indígena Karajá de Aruanã II — Homologada em 09 de setembro de 1998, por Decreto de 08/09/1998. Área de 893,2687 ha; perímetro de 11.543,35 m. Situação jurídica: sem contestação. Mantém estabilidade fundiária; usos principais: moradia, roça e rituais sazonais.
c) Terra Indígena Karajá de Aruanã III — Homologada em 13 de setembro de 2000, conforme Decreto de 12/09/2000. Área de 705,1748 ha; perímetro de 13.994,57 m. Situação jurídica: sem contestação; em pleno usufruto comunitário.
Em 2 de outubro de 2025, na Aldeia Buridina, realizou-se reunião com MPF, Funai, TJGO, Polícia Federal e Ibama. As lideranças Iny-Karajá relataram preocupações com a proteção territorial, abordagens policiais indevidas e pressões de ocupações urbanas e turísticas nas imediações das TIs. O MPF reafirmou o compromisso com a segurança pública indígena, a proteção do território tradicional e o reconhecimento das práticas de subsistência cultural (pesca, caça e uso do rio Araguaia) como direitos coletivos constitucionais, em processo de asseguramento por laudo antropológico em elaboração. Essas medidas representam avanço na consolidação jurídica e territorial do povo Iny-Karajá em Goiás, reforçando a necessidade de diálogo permanente entre órgãos públicos e comunidades indígenas.
Modos de Organização e Lideranças:
A organização social dos Iny-Karajá é marcada por uma lógica de dualidade e complementaridade que perpassa todas as dimensões da vida: o espaço, o corpo, o parentesco, o ritual e a política. Como demonstra Toral (1992), a sociedade Karajá se estrutura a partir de oposições simbólicas — alto/baixo, masculino/feminino, casa/praça, vivos/mortos — que refletem uma cosmologia de equilíbrio e interdependência. Essa visão organiza o território, o espaço das aldeias e as práticas cotidianas.
As aldeias (ijòna) são geralmente dispostas ao longo do rio Araguaia, com as casas voltadas para o leito do rio — associado ao domínio masculino e ao espaço público — e a parte posterior voltada para o mato, domínio do feminino e do doméstico. No centro encontra-se o ijoina, a praça dos homens, onde se realizam as assembleias e rituais, e nas margens externas, em direção à mata, ficam os cemitérios, que simbolizam o limite entre o mundo dos vivos e o dos mortos, integrando, porém, o mesmo circuito cosmológico (TORAL, 1992; LIMA FILHO, 1994). Essa disposição espacial traduz a concepção Karajá de que vida e morte, casa e praça, rio e mata são domínios complementares, em constante diálogo.
Segundo Lima Filho (1994), dois grandes rituais estruturam a vida social e religiosa do grupo: o Hetohoky e o Aruanã. O Hetohoky é o ritual de iniciação masculina, no qual os jovens passam de uma categoria etária à outra, aprendendo os princípios de convivência, a disciplina e os saberes rituais. É também um momento em que se reafirmam as hierarquias simbólicas e os vínculos entre os chefes tradicionais (ixydinodu) e os mais jovens. O ritual dos Aruanãs, por sua vez, representa o encontro entre os mundos: os espíritos aquáticos e celestes (Aruanãs) descem para dançar e celebrar com os humanos, renovando o equilíbrio entre os planos da existência. Juntos, esses rituais constituem o eixo cosmológico e moral da vida Iny, reafirmando a continuidade entre os vivos, os mortos e os ancestrais.
Nos estudos recentes, Andrade (2023) aprofunda o papel político e simbólico da chefia tradicional e destaca que os rituais são também espaços de afirmação comunitária e de transmissão de autoridade. O autor mostra que o wèdu aõna (“as coisas do chefe”) — conjunto composto por banco ritual (korixà), esteira (bkyrè), panela de cerâmica (watxiwi) e bastão cerimonial (makyré) — representa o poder simbólico e o prestígio do chefe, articulando a dimensão espiritual e política da liderança Iny-Karajá.
Embora tradicionalmente os homens ocupem a esfera pública e ritual, as mulheres desempenham papéis centrais na reprodução social, espiritual e estética da coletividade. São elas as responsáveis pela produção das ritxòkò (bonecas de cerâmica), pelos cânticos domésticos e pelo ensino das crianças, mantendo viva a língua e a memória dos antepassados. Andrade (2023) e Lima Filho (1994) observam, contudo, que nas últimas décadas as mulheres têm ocupado também espaços de liderança política, atuando como professoras, gestoras e agentes de saúde, e organizando associações próprias que articulam suas vozes nas pautas indígenas contemporâneas.
Assim, a organização social Iny-Karajá é um sistema vivo e dinâmico, no qual os espaços, os rituais, os objetos e as pessoas formam uma rede de interdependências. A posição das aldeias e cemitérios, os ritos do Hetohoky e dos Aruanãs, e a complementaridade entre os gêneros expressam um princípio de reciprocidade que sustenta o equilíbrio cósmico e social, reafirmando a vitalidade e a continuidade histórica do povo Iny-Karajá.
Os eventos recentes, como o incêndio do Museu Nacional (2018), representaram perda material, mas também oportunidade de reafirmar a agência Iny-Karajá na reconstrução de suas próprias coleções. A tese de Andrade (2023) documenta a devolução simbólica dos objetos destruídos por meio das famílias de Santa Isabel, que ofereceram novas peças, reconstituindo o acervo sob a perspectiva do protagonismo indígena.
A história recente também é marcada por pressões ambientais e políticas — como o projeto da rodovia Transbananal, analisado por Vittor Andrade —, que ameaça a integridade ecológica da Ilha e a reprodução física e simbólica dos Iny-Karajá. Contudo, essa ameaça tem fortalecido a atuação política das novas gerações de líderes e pesquisadores indígenas, que agora dialogam diretamente com universidades, ministérios e organismos internacionais em defesa de seu território e de sua memória.
As mulheres têm se organizado em associações, impulsionadas também pelo reconhecimento das bonecas de cerâmica como patrimônio imaterial brasileiro, e as jovens lideranças — homens e mulheres — vêm assumindo cargos em agências do Estado, como a Secretaria Especial de Saúde Indígena (SESAI), por meio do Distrito Sanitário Especial Indígena do Araguaia (DSEI-Araguaia), Tribunal de Justiça Estadual e na Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai). Além disso, atuam como profissionais indígenas nas áreas de educação, saúde e gestão escolar nas aldeias, ampliando a mediação entre o mundo tradicional e as instituições públicas. Outro ponto de destaque é a crescente participação nos pleitos de vereança dos municípios, fortalecendo a representatividade indígena nas instâncias legislativas locais.
Atualmente, destacam-se organizações como a Modos de Organização e Lideranças: (@inymahadu) — que representa comunidades Iny-Karajá de Goiás, Tocantins e Mato Grosso — e o Coletivo de Mulheres Iny Mahadu (@coletivodemulheresiny), que atua em defesa de direitos, saúde, educação e preservação ambiental, promovendo uma articulação interaldeias voltada à valorização das mulheres e à defesa do território. Tais iniciativas reafirmam o protagonismo indígena e a vitalidade política contemporânea dos Iny.
Em Goiás, os Iny-Karajá de Aruanã — os Karajá de cima — são elo entre o Alto Araguaia e a Ilha do Bananal, zona de intensa troca cultural, religiosa e econômica. Durante o período colonial e imperial, missões e frentes extrativistas promoveram deslocamentos forçados e reorganizações espaciais. Aruanã (antiga Leopoldina) foi palco de contatos intensos desde o século XIX, quando se tornou entreposto comercial e missionário, o que também possibilitou novas formas de visibilidade: arte cerâmica, apresentações rituais e artesanato como meios de afirmação cultural e econômica.
Contudo, os Iny-Karajá mantiveram suas aldeias às margens do rio, fazendo do Araguaia eixo de mobilidade, comunicação e memória. Eduardo Nunes (2020) mostra que, em Aruanã, a convivência prolongada com não indígenas gerou processos de dupla pertença: os Iny participam da vida urbana e dos circuitos turísticos, mas reatualizam práticas rituais, festas e saberes tradicionais em chave de resistência simbólica.
Hoje, os Iny-Karajá de Aruanã equilibram as exigências da modernidade com o compromisso de manter o “modo de ser Iny”. A fala dos anciãos, estudada por Nunes, expressa o equilíbrio entre os “antigos” e o “pessoal de hoje” — transição viva entre tempos. Exemplo disso é a Associação das duas aldeias: Associação das aldeias Buridina e Bèd Burè AABB) -, com liderança feminina, e a aldeia Buridina, que tem cacica e vice-cacica — duas mulheres — à frente da liderança.
